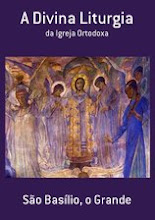Não há ninguém que, no decurso da sua existência, se não veja confrontado com a doença. Ela está inevitavelmente ligada à condição humana. Nenhum organismo é completamente são. A saúde nunca é mais que um equilíbrio provisório entre as forças da vida e outras forças que se lhe opõem, não tendo as primeiras senão uma frágil supremacia. A vida, escreve o professor Mareei Sendrail na sua História cultural da doença, «é por essência um desafio provisório à morte. Cada uma das nossas células só se mantém à custa de uma luta permanente contra as forças que tendem a destruí-la. Desde a juventude, os nossos tecidos integram vastas zonas de degradação e desgaste; desde o nascimento inscrevem-se neles as causas que irão precipitar-lhes o fim (...). A doença forma a trama da nossa continuidade carnal. Mesmo sob a máscara da saúde, os fenômenos biológicos ultrapassam a todo o instante as fronteiras do normal. É, para os médicos, um fato de observação corrente que manifestações de caráter mórbido se combinam com os atos vitais mais elementares». Julgamo-nos de boa saúde e é então, precisamente, que a doença está em nós de maneira potencial, e bastará que uma ou outra das nossas defesas se fragilize, para que ela apareça, sob uma forma ou outra. Às vezes, antes de termos dado por isso, já ela provocou estragos consideráveis.
Todas as doenças são para nós causas de sofrimento. A maioria faz-nos sofrer física e psiquicamente. Todas ocasionam sofrimento espiritual, pois nos revelam, cruelmente, por vezes, a fragilidade da nossa condição, lembrando-nos que a saúde e a vida biológica não são bens que detenhamos de forma durável; que o nosso corpo, nesta vida, está destinado a enfraquecer, a degradar-se e, finalmente, a morrer.
Deste ponto de vista, a doença suscita uma série de interrogações às quais ninguém escapa: Porquê? Porquê eu? Porquê agora? Por quanto tempo? Que vai ser de mim?
Toda a doença constitui uma interpelação tanto mais viva e profunda quanto não é abstrata nem gratuita, mas se inscreve numa experiência ontológica às vezes lancinante. Esta interpelação é muito freqüentemente crucial. Porque a doença põe sempre mais ou menos em questão os fundamentos, o quadro e as formas da nossa existência, os equilíbrios adquiridos, a livre disposição das nossas faculdades corporais e psíquicas, os nossos valores de referência, a nossa relação com os outros, e a nossa própria vida, pois a morte perfila-se, então, sempre no horizonte, de forma mais nítida do que habitualmente.
Longe de ser um acontecimento que só diria respeito ao nosso corpo, e só por algum tempo, a doença constitui em muitos casos uma provação espiritual que implica todo o nosso ser e o nosso destino.
De uma forma ou outra, é-nos preciso vencer esta prova, assumir a doença e as diversas formas de sofrimento que a acompanham, encontrar soluções teóricas mas, também, e sobretudo, práticas, para os problemas que elas nos apresentam. Cada um de nós, no decurso da sua existência, deve não só contar com a doença e o sofrimento, mas, também, quando eles surgem, continuar a viver e a encontrar, apesar deles ou neles, a sua realização pessoal.
Ora isto nunca é fácil: porque a doença, geralmente, nos imerge numa situação desacostumada, em que as nossas condições de vida se encontram modificadas, as nossas relações com os familiares e amigos são perturbadas e, às vezes, transtornadas por um isolamento imposto, em que devemos confrontar-nos com a dor, mas, também, com a inquietação e o desencorajamento ou, até, com a angústia e o desespero, e em que nos sentimos sempre mais ou menos sós perante a necessidade e a possibilidade de fazer face a estas dificuldades.
Tanto mais quanto, a este respeito, o homem dos nossos dias está, sob vários pontos de vista, mais desarmado que os seus antepassados.
Sem dúvida que a medicina adquiriu, nos nossos dias, um grau muito alto de conhecimento científico, de capacidade técnica e de organização social, o que lhe confere, no plano da intervenção, do diagnóstico e da terapêutica, uma grande eficiência. Muitas doenças que antigamente faziam estragos consideráveis desapareceram nos nossos dias. Podemos ser hoje rapidamente curados de afecções que os nossos antepassados deviam suportar durante longo tempo ou que eram incuráveis de todo. Podemos ser aliviados de sofrimentos que eram antes inevitáveis. Mas, há que reconhecê-lo, este progresso tem os seus limites e mesmo os seus fracassos, devendo-se estes, é certo, menos à medicina em si que aos valores, ou até às ideologias que, em certos casos, estão subjacentes ao seu uso e ao seu desenvolvimento.
O desenvolvimento da medicina, numa perspectiva puramente naturalista, teve, como conseqüência, que objetivar a doença, fazer dela uma realidade considerada em si própria, num plano puramente fisiológico, independentemente de quem é por ela afetado. Em vez de prestar os seus cuidados às pessoas, muitos médicos, hoje em dia, tratam doenças ou órgãos. Este fato, acrescido do uso de métodos de diagnóstico cada vez mais quantitativos e abstratos e de meios terapêuticos cada vez mais técnicos, teve como primeira conseqüência a despersonalização considerável da prática médica e o aumento da perplexidade e da solidão do doente. E, como segunda conseqüência, levou a que o doente fosse como que desapossado da sua doença e dos seus sofrimentos, reduzindo-se-lhe assim os meios próprios para enfrentá-los. Considerando estes, na verdade, como realidades autônomas, de natureza puramente fisiológica, e por isso passíveis de um tratamento exclusivamente técnico e apenas no plano corporal, a medicina atual de forma nenhuma ajuda o doente a assumi-los e, pelo contrário, vai induzi-lo a considerar que o seu estado e o seu destino repousam inteiramente nas mãos dos médicos; que só há solução médica para as suas várias dificuldades, que não há para ele outra forma de viver a sua doença e os seus sofrimentos senão a de esperar passivamente da medicina a cura e o alívio.
Os valores dominantes da civilização ocidental moderna favorecem, aliás, uma tal atitude. A sobrevalorização da vida biológica considerada como a única forma possível para o homem, da saúde psicossomática encarada como a fruição de um bem-estar visto segundo um plano quase exclusivamente material, de que o corpo surge como o órgão essencial, o temor de tudo o que pode pôr tal fruição em risco, do que pode reduzi-la ou suprimi-la, a recusa de todo o sofrimento e a constituição da analgesia como valor de civilização e finalidade social2, o medo da morte biológica considerada como fim absoluto da existência, tudo isto conduz muitos dos nossos contemporâneos a esperar a sua salvação na medicina e a fazer do médico um novo padre dos tempos modernos3; um rei tendo sobre eles direito de vida ou de morte; um profeta do seu destino. Tudo isto explica, também, o caráter aberrante de certas práticas médicas, biológicas e genéticas da atualidade que, aliás, não correspondem, como freqüentemente se pensa, a um desenvolvimento natural da ciência e da técnica, mas estão de acordo com o espírito da época e constituem-se para satisfazer os requisitos e responder às angústias da mentalidade contemporânea.
A esperança, nascida no fim do séc. XVIII, de um desaparecimento total da doença e do sofrimento numa sociedade não perturbada e restituída à sua saúde original4, ligada à crença num progresso indefinido da ciência e da técnica, está mais viva que nunca. O desenvolvimento atual da genética permitiu acrescê-la da fé na possibilidade de, graças a manipulações adequadas, purificar biologicamente a natureza humana das suas imperfeições e, talvez, finalmente, vencer a própria morte.
Estas atitudes testemunham sem dúvida aspirações positivas profundamente arraigadas no homem: a de escapar à morte, muito justamente considerada como estranha à sua natureza profunda; a de ultrapassar os limites da sua condição atual; a de ter acesso a uma forma de vida isenta de imperfeições, na qual se pudesse exprimir sem entraves. Mas não é ilusório esperar das ciências e técnicas médicas e biológicas uma resposta satisfatória a estas aspirações?
É preciso notar, em primeiro lugar, que, se numerosas doenças desapareceram graças aos progressos da medicina, outras surgiram em seu lugar5. Depois de ter registrado um considerável aumento nos países desenvolvidos, graças aos progressos da medicina, mas também à melhoria generalizada das condições materiais da existência, a esperança de vida média encontra-se, desde há alguns anos, numa quase estagnação que revela limites cada vez mais difíceis de ultrapassar. Sem contar que a «esperança de vida», medida estatisticamente, nada significa para cada indivíduo que, enquanto tal, escapa às «leis» estatísticas. Sem contar também que uma parte importante da patologia e da mortalidade está, nos nossos dias, ligada aos acidentes, imprevisíveis por natureza, e cujo número impressionante de vítimas evoca às vezes o das antigas epidemias. Quanto ao sofrimento, se alguns tratamentos permitem hoje em dia suprimi-lo ou reduzi-lo eficazmente, quando ele é muito intenso tais resultados não podem ser obtidos por completo, a menos que se diminua, modifique ou suprima a consciência do doente, restringindo mais a sua liberdade. As esperanças do homem moderno revelam já neste ponto a fragilidade dos seus fundamentos. Ao mito que perdura responde a realidade, quotidianamente vivida por milhões de homens, da doença, do sofrimento e da morte, que irrompem tantas vezes na sua vida «de noite, como um ladrão».
Há que reconhecer, por outro lado, que as novas técnicas médicas, biológicas e genéticas põem mais problemas do que resolvem. O «melhor dos mundos» que elas poderiam realizar, se nenhum limite lhes fosse fixado, parecer-se-ia mais com um inferno do que com o paraíso ao qual aspiram aqueles que a elas cegamente se entregam. É de fato evidente que elas se desenvolvem no sentido de uma despersonalização crescente: porque transformam as doenças e os sofrimentos dos homens em entidades independentes e em problemas puramente técnicos; porque fazem, por vezes, do homem objeto de experimentação e visam, então, menos o alívio da pessoa que o progresso da ciência e da técnica considerado como um fim em si ou, mesmo, a busca do espetacular, aliado, em certos casos, a objetivos publicitários; porque tendem a fazer da vida e da própria morte puros produtos técnicos; porque fazem abstração de relações pessoais e valores humanos fundamentais, que são uma necessidade vital de todo o homem, desde a concepção até à morte.
Há que acrescentar a isto que a maioria das práticas médicas atuais tem como denominador comum considerar e tratar o homem como um organismo puramente biológico ou, no melhor dos casos, como um simples composto psicossomático. Por esta razão, e apesar da sua eficácia num certo plano, elas não podem ter sobre ele, a outro plano, senão efeitos profundamente mutiladores, pois ignoram de forma implícita a dimensão espiritual que o caracteriza fundamentalmente. Se é verdade que o corpo humano está, na sua realidade biológica, submetido às leis que, na natureza inteira, regem o funcionamento dos organismos vivos, ele não pode todavia ser tratado exatamente como qualquer outro organismo vivo, pois é o corpo de uma pessoa humana da qual não pode ser dissociado sem ser desnaturado; nas suas condições atuais de existência, é inseparável não apenas de uma componente psíquica complexa que só por si eleva o homem muito acima do animal, mas ainda de uma dimensão espiritual mais fundamental que a sua dimensão biológica. O corpo não apenas exprime, ao seu nível, a pessoa, mas também, em certa medida, é a pessoa. A pessoa não tem apenas um corpo, ela é também o seu corpo, mesmo se transcende infinitamente os seus limites. É por isso que tudo o que diz respeito ao corpo implica a própria pessoa. Não tomar em conta esta dimensão espiritual do homem quando se pretende dar remédio aos seus males, significa, inevitavelmente, causar-lhe graves danos e, muitas vezes, privar-se antecipadamente de qualquer meio de ajudá-lo a assumir o seu estado com proveito e a superar as diversas provações que vai enfrentar.
Boletim Interparoquial, jun/2006