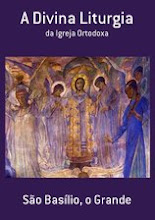A expressão monakós (= único, só) tem uma longa história que remonta a Platão. No âmbito cristão, o termo é encontrado no Evangelho de Tomé (c. 150), onde tem um caráter filosófico. Provavelmente na mesma época surgiu nas comunidades da Síria uma denominação de igual significado para designar os ascetas: o ihidaya, o único, o particular, o discípulo ao qual é atribuído o mesmo título de Cristo: monoghenés. Jesus é o monoghenés, e o discípulo que vive os trópous Kyríou (= os modos de vida do Senhor) torna-se também ele “único”.
Por volta de 330, pela primeira vez Eusébio atribui aos monges o título de monoghenéis, o mesmo de Cristo (com. sobre salmo 68,7). São eles os que vivem na total semelhança com Cristo. Evidentemente, no início não existiam estruturas constituídas.
A primeira expressão de vida “monástica” é a do eremita ou anacoreta. Como declara Jerônimo, “são anacoretas os que vivem sozinhos nos desertos e recebem esse nome pelo fato de terem se retirado para longe dos homens” (Carta 22,34). Originalmente, o verbo grego anakoréo (= retirar-se) significa a fuga para o deserto por parte dos devedores insolventes. Mas Jerônimo atesta um uso “batizado” da palavra.
Embora se possam documentar vestígios de anacoretismo já por volta de meados do século III, parece que essa forma ascética desenvolveu-se graças à contribuição maciças ao cristianismo, típicas do século IV, com a conseqüente diminuição do fervor espiritual e a necessidade de fugir as seduções de uma sociedade que a nova religião não transformara. Observa-se no anacoretismo cristão uma tendência de reação e uma necessidade de fuga das cidades, consideradas lugar de pecado.
Os anacoretas distinguiam-se por seu isolamento quase total, por abstinência sexual, penitências, trabalho manual e ausência de um superior. Para Jerônimo, “quem insistiu nesse tipo de vida foi Paulo, quem lhe deu brilho foi Antão e, indo mais atrás, seu promotor foi João Batista”. (Carta 22,36). À parte estas afirmações, a questão sobre a origem da vida anacorética permanece insolúvel depois, como por falta de fontes. É possível demonstrar, porém, a rápida difusão dessa forma ascética no Egito, na Palestina, na Síria e na Ásia Menor. Fase primitiva do monaquismo cristã ao qual se seguirá a vida cenobítica ou associada, o anacoretismo carrega a marca da terra de origem e assume formas comportamentais diferentes. Os diversos gêneros desse tipo de vida encontraram adeptos não apenas entre os homens, mas também entre as mulheres. Teodoro de Ciro, na História dos monges (29-30), lembra três delas : Marana, Cira, Domina. Sabe-se que anacoretismo exerceu grande influência sobre a espiritualidade sucessiva, inclusive por causa do caráter “heróico” de suas expressões.
Já ressaltamos que, cronologicamente, a experiência de isolamento precedeu a cenobítica (koinós bíos – vida comum). Esta passou a se impor depois, como conseqüência do fato de que a um anacoreta famoso se associam discípulos, desejosos de partilhar sua vida.
Considerando os riscos inerentes a uma vida solitária e as vantagens provenientes de uma vida associada, Pacômio (c. 292-347), depois de uma experiência pessoal e vida eremítica, criou o cenobitismo, caracterizado pela convivência na total partilha dos bens e na oração comum, n observância da mesma regra, no trabalho manual e na obediência absolta ao abade.
Ele fundou a primeira comunidade em 323, em Tabernnesis, no Alto Egito. Em pouco mais de vinte anos, as fundações pacomianas, regida por uma Regra de 194 artigos, compreendiam nove mosteiros masculinos e dois femininos. A experiência inovadora de Pacômio, embora animada pela moderação e pela prudência, não era imune aos risco inerentes a comunidades numericamente cada vez maiores.
Não podemos esquecer aqui a pessoas de Antão (+ c. 355), que, depois de um período de vida anacorética, tornou-se “pai” de alguns pequenos mosteiros que a ele se ligavam. Sua biografia, escrita pelo bispo Atanásio de Alexandria, passou a valer como norma nas expressões subseqüentes de vida monástica.
As formas cenobíticas já existentes seriam corrigidas e aperfeiçoadas por Basílio de Cesaréia (c. 330-379), que se valeu das experiências monásticas anteriores. Convencido que somente a vida cenobítica garantia o exercício da caridade, ele assentou a convivência comunitária num tipo de relação de amizade. “Coabitar” - declarará nas Regulae fusius tractatae VII, 4 - “constitui um campo de prova, um belo caminho de progresso, um contínuo exercício, uma ininterrupta meditaçã dos preceitos do Senhor. E o objetivo dessa vida comum é a glória de Deus... Esse gênero de vida comum está de acordo com o que levavam os santos lembrados nos Atos dos Apóstolos: os fiéis mantinham-se unios e possuíam tudo em comum”.
De acordo com essa visão, Basílio limitou o número de monges que viviam juntos e fz com que os mosteiros tivessem maior participação no contexto social e eclesial, agregando a eles escolas, asilos e orfanatos. Redimensionou também o compromisso de trabalho manual, garantindo mais tempo pra a oração e o estudo.
As experiências cenobíticas orientais encontraram rápida e mpl difusão no Ocidente nos séculos IV e V. Foi Jerônimo (c. 347-419) quem propagou essa forma de ascese. Mas não devemos esquecer as contribuições originais oferecidas por Martinho de Tours, que, mesmo sendo bispo (370-371), manteve vida comum com os seus discípulos.
Na África, Agostinho fundou um mosteiro episcopal (395) que seguia uma Regra preparada por ele (Carta 211). Por volta de 400, Honorato instituiu o célebre mosteiro de Lérins, e João Cassiano (360-c.430), que com suas obras pôs o Ocidente em contato com o cenobitismo oriental, criou dois mosteiros em Marselha.
O assentamento diversificado dessas formas cenobíticas no Ocidente encontrará uma síntese original na Regra de são Bento (+ c. 547), que, assimilando o pensamento pacomiano e a experiência basilina, acabará se impondo sobre as outras formas de vida religiosa associada com a definição dos papéis de cada um, a sólida organização interna e a inserção na Igreja local.
Depois dessa breve exposição do quadro histórico, podemos perguntar se existe uma “espiritualidade monástica originária”. G. M. Columbas declara a respeito: “Os grandes Padres, legisladores teóricos da vida monástica em suas origens e em seu desenvolvimento, não indicaram a seus discípulos outro objetivo de santidade senão o indicado a todos os cristãos pela Igreja nem mostraram outro caminho para cegar a ele senão a do Evangelho”.
Não se trata de uma espiritualidade reservada a uma elite, nem os monges querem ser um grupo esotérico, uma espécie de gnósticos. A vocação monástica só pode ser entendida como uma confirmação e um aprofundamento consciente das promessas batismais que o monge decide observar e modo radical.
Se não há uma perfeição reservada aos monges, mas a única perfeição evangélica é apontada para todos, sejam eles leigos ou monges, é claro a estes se dirige o duplo preceito do amor de Deus sobre todas as coisas e o do amor ao próximo sobre si mesmos. No interior desse ideal há, porém, arquétipos ou “idéias-força” que exerceram maior ou menor influência sobre as diversas fomas de vida monásticas e sobre a sua espiritualidade. Basta lembrar o ideal da vida como imitação de Cristo, como imitação da primitiva comunidade apresentada nos Atos (2,44-45); (4,32-34), a assunção da vida ascética como substituta do martírio, a vida monástica como batalha contra o demônio, a migração ascética e o êxodo espiritual, a imitação da vida angélica, o retorno a inocência de Adão, a espera vigilante da parusia, a vida como ideal filosófico. Esses diversos arquétipos mostram a rica variedade do ideal monástico; uma diversidade que não altera absolutamente a unidade essencial: o monge é aquele que, sob diferentes formas, busca o conhecimento, a adoração e o serviço de Deus.
Luigi Padovese